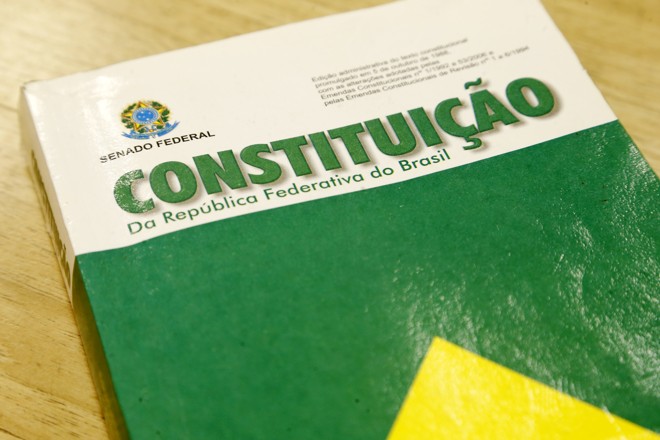
Inspirados pelas notícias do plebiscito chileno que aprovou uma nova constituinte no final de outubro de 2020, os parlamentares brasileiros voltaram a discutir a possibilidade de uma nova assembleia para mudar a nossa Carta Magna. No entanto, as motivações são diametralmente opostas.
No Chile, o debate sobre uma nova constituinte nasceu a partir dos protestos, liderados por mulheres e outros segmentos minorizados socialmente, que se iniciaram no final de 2019 e se estenderam até 2020, em um movimento que passou a ser conhecido como estallido social (ou estouro social, em tradução literal). Por lá, decidiu-se que a assembleia constituinte será paritária (50% de cada gênero) e possuirá uma cota de cadeira reservada para a população indígena.
As críticas à constituição chilena giram em torno de três pontos centrais: a herança da ditadura, enclaves autoritários e o “Estado subsidiário”. Criada durante a ditadura militar chilena em 1980, este texto constitucional refletiu uma democracia protegida da “irracionalidade do povo”, o que criou mecanismos que dificultavam a participação popular nas decisões e tornavam a constituição muito rígida.
O cerne dos debates sobre uma nova constituinte está nos direitos sociais. O texto constitucional chileno consagra um “Estado subsidiário” que não oferece diretamente benefícios relacionados à saúde, educação ou previdência social, delegando isso ao setor privado. Isso porque a privatização foi um dos pilares do modelo de Pinochet. Em sua Constituição, serviços básicos como eletricidade e água potável são geridos por particulares.
Após os resultados do plebiscito chileno, o líder do governo brasileiro na Câmara dos Deputados, deputado federal Ricardo Barros (Progressistas/PR), afirmou que a Constituição Federal “só tem direitos” e que a carta magna “tornou o Brasil ingovernável”. Citando o exemplo recente do Chile, o parlamentar diz que uma nova constituição brasileira precisaria mencionar mais vezes a palavra “deveres”, porque só teria direitos. Embora o parlamentar tenha proferido essa declaração recentemente, o argumento de “excesso de direitos” nasceu junto com a Constituição Cidadã Brasileira.
Tentativas de mudar a Constituição brasileira
Ainda durante a Assembleia Constituinte, em 1987 o então presidente da República José Sarney já declarava que o Brasil se tornaria “ingovernável”. Entre 1988 e 2020, houve, pelo menos, 13 tentativas de convocar uma assembleia constituinte no Brasil manifestadas através de propostas de deputados filiados às mais diversas correntes ideológicas. Podemos organizar essas propostas segundo o instrumento (Assembleia Nacional Revisora ou Assembleia Nacional Constituinte) e a justificativa (reforma política ou reforma de direitos).
Em junho de 1997, o então deputado federal Inocêncio de Oliveira (PFL/PE) apresentou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 463/97 que propunha converter o Congresso Nacional eleito em 1998 em Assembleia Constitucional Revisora. Na justificativa, o parlamentar argumentava que a CF/88 fora criada em um momento de mudanças no País e no mundo e que a realidade econômica globalizada e globalizante exigia reformas estruturais no texto constitucional.
No mesmo sentido, o então deputado federal Aécio Neves (PSDB/MG), apresentou um Projeto de Decreto Legislativo (PDL 580/97) que propunha convocar um plebiscito para a população aprovar a realização de uma Assembleia Constituinte Revisora no mesmo momento das eleições de 1998. Se aprovada, a assembleia seria formada nos mesmos moldes sugeridos por Inocêncio de Oliveira, com a conversão dos parlamentares eleitos em uma assembleia unicameral. Aécio Neves argumentava que havia um anseio da sociedade para uma revisão constitucional e reclamava que o quorum qualificado impedia as transformações sociais necessárias para o desenvolvimento.
A possibilidade de se convocar a assembleia revisora também foi suscitada pelos deputados Luis Carlos Santos (PEC 157/2003), Alberto Goldman (PEC 447/2005), Marco Maia (PEC 384/2009) e Leonardo Gadelha (PEC 276/2013). É importante ressaltar que essa figura está prevista no art. 3º do ADCT da Constituição Federal:
Art. 3º A revisão constitucional será realizada após cinco anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral.
Por sua vez, as demais Propostas de Emenda à Constituição buscavam aprovar uma Assembleia Soberana, sem as virtuais limitações de uma assembleia revisora.
Outra forma de diferenciar as propostas é analisar suas justificativas. Alguns parlamentares (como os já citados Aécio Neves e Inocêncio de Oliveira) afirmavam que a Assembleia deveria ser convocada porque o Brasil precisava se adaptar à dinâmica de desenvolvimento econômico, com um discurso alinhado à ideologia neoliberal. Outros, como o deputado Hildo Rocha, autor da PEC 426/2018, defendiam que os direitos resguardados pela Carta Magna de 1988 careciam de efetividade.
O deputado fala em “crise de inconstitucionalidade” para descrever a situação da Constituição. Assim como as demais, sua PEC foi considerada inconstitucional. No entanto, em recurso ao plenário contra o arquivamento, Hildo Rocha argumenta que a CF/88 possui uma “configuração exagerada e minudente de direitos”. Sua tentativa de desarquivar a proposta foi em vão.
Há ainda propostas que sugeriram uma nova Assembleia Constituinte para realizar uma reforma política ampla. É o caso das seguintes proposições: PEC 193/2007, PEC 384/2009, PEC 276/2013, PDC 1508/2014, PEC 104/2015, PEC 298/2016 e PEC 312/2017.
Para além do debate sobre a constitucionalidade destas matérias, elas possuem uma característica em comum: a tentativa de mudar via assembleia constituinte a configuração de direitos para atender interesses pontuais. Alguns querem alterar as garantias fundamentais para adequar o direito brasileiro a um modelo neoliberal. Outros querem modificar a configuração política usando um instrumento diferente do previsto constitucionalmente para esse fim.
Diferenças entre as constituintes chilena e brasileira
O caso da Assembleia Constituinte chilena e as propostas brasileiras possuem diferenças nítidas. A primeira delas remete à origem da demanda. No Chile, o pedido de uma nova Constituição nasceu das demandas populares apresentadas nos protestos que tomaram as ruas de várias cidades. Já no Brasil, a ideia vem dos políticos, em uma clara tentativa de adequar o Estado à sua agenda política e econômica.
Nesse sentido, José Afonso de Lima, uma das maiores referências do Direito Constitucional brasileiro, afirmou em entrevista que:
Uma constituinte só se convoca para que se refaça o pacto social, mediante a elaboração de uma nova Constituição, quando – por um golpe de Estado ou outro motivo – rompe-se com a ordem constitucional vigente. Jamais, em tempo algum, em lugar algum, quando existe uma Constituição regendo plenamente os destinos do país, garantindo eleições livres, superando crises de vários tipos. As crises que ainda perduram são crises éticas, com reflexo na ordem econômica e social. Não existe, sequer, uma crise constitucional. Simplesmente por que a Constituição vigora e oferece os meios adequados à solução dessas crises. Às vezes, leio propostas de convocar constituinte exclusiva para fazer as reformas políticas, ou para refazer o pacto federativo, mas não se convoca constituinte para isso ou para aquilo, porque só se convoca constituinte quando existe ruptura da ordem existente, para fazer nova Constituição. Não havendo ruptura, não há os pressupostos para constituinte. Uma nova constituinte só servirá para retirar da Constituição as conquistas populares. Enfim, existindo Constituição em vigor, será inconstitucional a convocação de constituinte, qualquer que seja.
O segundo ponto de divergência é representatividade. No Chile, a paridade de gênero e a reserva de cadeiras efetivas para população indígena é fator essencial para a construção da nova constituição. No Brasil, essa ideia é sequer mencionada. As propostas que buscaram determinar cotas efetivas de participação feminina na Câmara dos Deputados, a exemplo da PEC 134/15, não foram aprovadas. Isso porque previam a reserva de apenas 15% das cadeiras nos legislativos por três mandatos.
Essa característica do modelo chileno guarda semelhança com a criação dos textos Constitucionais da Venezuela 1999, do Equador de 2008 e da Bolívia de 2009. Todos foram produzidos a partir de amplo movimento popular constituinte legítimo. Esse movimento é chamado de Novo Constitucionalismo Latino Americano e tem como características, segundo Maria Lúcia Barbosa[1]:
- a) ênfase na participação popular na elaboração e interpretação constitucionais, que o caracteriza por um forte elemento legitimador;
- b) adoção de um modelo de “bem viver” fundado na percepção de que o ser humano é parte integrante de um cosmos;
- c) re-articulação entre Estado e Mercado a partir da reestruturação do modelo produtivo;
- d) rejeição do monoculturalismo e afirmação de pautas pluralistas de justiça e direito;
- e) inclusão de linguagem de gênero nos textos constitucionais;
- f) garantia de participação e reconhecimento de todas as etnias formadoras das nações latino-americanas, inclusive com reconhecimento das línguas originárias e a existência de Cortes Constitucionais com participação indígena;
- g) são textos constitucionais preocupados com a superação das desigualdades sociais e econômicas;
- h) proclamam o caráter normativo e superior da Constituição frente ao ordenamento jurídico.
De pronto se vê que essas características não estão presentes nas propostas que circulam no parlamento brasileiro. Mesmo porque as constituições brasileiras possuem um histórico marcado por acordos políticos entre conservadores e liberais, elites que têm como propósito se perpetuar no poder e manter a estrutura de dominação existente desde o tempo do Brasil colônia.
Nesse sentido, o debate sobre uma nova constituição no Brasil, sem qualquer ruptura institucional que a justifique, atende apenas a interesses de grupos políticos que enxergam nos direitos duramente conquistados na Carta Magna de 1988 um obstáculo ao seu processo de dominação e encobrimento das populações minorizadas.
Propor um novo texto constitucional, ainda mais no contexto de um governo de extrema-direita, reconhecidamente contrário a garantias individuais, é correr o risco de retroceder a um Estado mínimo e de tornar o Brasil um país onde a desigualdade social é ainda mais latente.
[1] BARBOSA, Maria Lúcia. Democracia direta e participativa: um diálogo entre a democracia no Brasil e o novo constitucionalismo latino Americano. 2015. 218 f. Tese (doutorado) Curso de Direito, Universidade Federal de Pernambuco,Recife, 2015.




